
Brasil e seus “padrinhos”
“Moço, peço licença, eu sou novo aqui, não tenho trabalho, nem passe, eu sou novo aqui, [...] Eu tenho fé, fé, que um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé, Zé [...] Sou quase um cara, não tenho cor, nem padrinho, nasci no mundo, eu sou sozinho, não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono [...]”, cantava O Rappa – banda reggae rock carioca, cujas letras têm grande cunho social – em “Meu mundo é o barro”.
A crítica entoada pelos músicos traduz uma conduta que parece muito presente em nosso cotidiano, que insiste em manter um trato especial entre os indivíduos, a depender dos laços consanguíneos, afetivos, relações de poder e trocas de favores. No campo privado, talvez sejam práticas corriqueiras; o problema é quando se busca reproduzi-las no setor público.
Um dos princípios da administração pública direta ou indireta em todos os entes da federação – consagrado no Art. 37 da Constituição Federal de 1988 – é a impessoalidade. Nele – ao contrário do nosso legado, onde predominavam as relações de compadrio, indicações, nepotismo e conluio – buscava-se (e ainda busca-se) imprimir uma prática que trate dos interesses públicos sem qualquer forma de discriminação; e excluir as relações de privilégios, preferências ou prioridades, a depender de quem se trata ou se indica.
Para além da prática em si, construir uma cultura que pregue a igualdade de tratamento para todas as pessoas parece ser algo inglório, num país que alimenta e vangloria a meritocracia – sem considerar a lógica do sobrenome, faz questão de manter os privilégios, a estratificação social e diferenças entre as castas.
O fatídico episódio envolvendo o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, acerca do repasse de recursos financeiros aos municípios, a partir da indicação de alguns pastores evangélicos, evidencia uma prática criminosa, que busca imprimir um trato personalista junto à máquina pública, lidando de modo especial com os pares – ou “os parças”.
Para além da ingerência do campo religioso no setor público – independente de qual seja – uma vez que o Estado é laico, o caso evidencia a criação de uma espécie de “canal paralelo”, algo, aliás, nada inédito no atual executivo nacional. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, instalada em 2021 – cujo papel foi apurar supostas omissões e irregularidades cometidas pelo governo federal face a pandemia – trouxe à tona a existência de um “gabinete paralelo”, que assessorava o governo “por fora” das decisões tomadas no âmbito do Ministério da Saúde.
Longe do provérbio popular que diz “para os amigos: tudo; para os inimigos: nada; e para os outros: a lei”, no âmbito da máquina pública, a impessoalidade e os demais princípios que rogam o Art. 37 – legalidade, moralidade, publicidade e eficiência – devem sempre prevalecer e orientar a conduta do servidor público e também dos cargos pleiteados.
A narrativa que busca depreciar o setor público (e seus servidores) “serve” muito mais aos interesses de grupos seletos – no fomento à venda de serviços privados, defesa da privatização e a terceirização dos trabalhadores – do que a realidade em si, uma vez que temos serviços de ponta (que poderiam ser ainda melhores se contassem com gestão e orçamento “terrivelmente” comprometidos) e servidores públicos – a maioria absoluta – “que seguram o rojão”. A estabilidade no cargo, cujo acesso depende da aprovação prévia em concurso público, salário digno e acesso a direitos trabalhistas e previdenciários (ao menos o que resta deles, pós-reformas) cria um laço do servidor com a sociedade e não com seu “dono”.
Tudo isso – conquistado a duras penas – para coibir práticas que faziam (e insistem em fazer) da máquina pública uma extensão da vida privada, alimentavam atos de corrupção e criavam um verdadeiro “balcão de negócios” ou troca de favores, prevalecendo os interesses particulares.
Defender o serviço público – e consequentemente o seu acesso via concursos públicos – é imperativo na construção de uma prática e uma cultura que compreenda que a atenção dispensada é para todas as pessoas e seu operador – servidor público – “serve” à sociedade e não a um suposto “padrinho”.
.jpg)
Gisele A. Bovolenta é assistente social e professora na Universidade Federal de São Paulo.
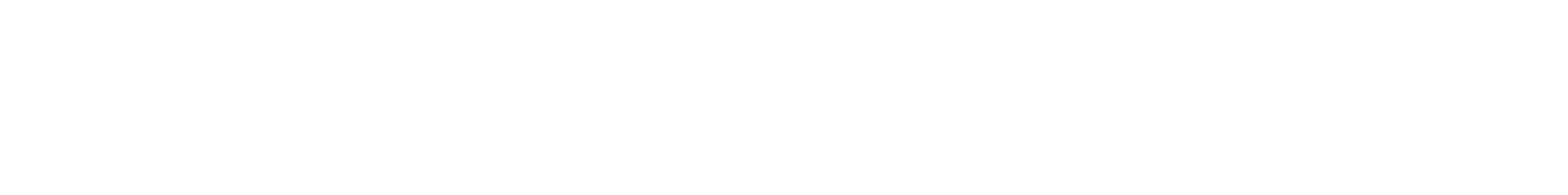






0 Comentários