
Direito ao luto
Em meados de julho deste ano – mais precisamente dia dezesseis – o clube de futebol Barcelona de Guayaquil, do Equador, foi surpreendido com a notícia de que um de seus goleiros, o jovem Justin Cornejo, de 20 anos, teria sofrido um acidente doméstico ao ser encontrado desacordado no banho, supostamente após um escorregão. Dada a gravidade da ocorrência, o rapaz veio a óbito logo em seguida, deixando o clube surpreso e sensibilizado com sua morte trágica e repentina.
No entanto, isso não foi razão suficiente para a Conmebol – órgão dirigente do futebol sul-americano – cancelar a partida que o time teria no dia seguinte contra o Red Bull Bragantino, mesmo o clube tendo pedido o cancelado da partida, já que os demais jogadores estavam muito abalados e sensibilizados com a morte inesperada do companheiro de equipe.
Jogo que nem mesmo a morte foi capaz de cancelar...
Morte que na sociedade capitalista pode ser um grande negócio e não deve gerar prejuízos...
Não há espaço nem tempo para lágrimas, sequer direito de viver o luto!
Assim é a vivência e o trato da morte num sistema que não para. Não pode parar. Não quer parar. Porque parar significa perder tempo, perder dinheiro, patrocínio...
O direito ao luto parece cada vez mais raro e distante numa realidade intensificada pela extração máxima do lucro, na qual os negócios não podem ser suspensos e a necessidade pela sobrevivência diária não dá tréguas a quem corre contra o tempo para viver.
Realidade essa que não permite viver as emoções e sentimentos do ciclo da vida; em que as diferenças e desigualdades seguem sendo reproduzidas e mantidas no cotidiano, as quais não acabam nem com a chegada do fim da vida.
Ao contrário, demarcam que nem mesmo diante da morte os corpos são iguais, pois carregam consigo as diferenças sociais (por classe, raça, idade, condição socioeconômica etc.) que tiveram em vida e que não cessam com a chegada da morte, o que permanece imprimindo as contradições sociais existentes na sociedade e vivenciadas pelas pessoas ao longo da vida.
A “boa morte” era – e é – a extensão dessas diferenças em vida: as famílias mais afortunadas cuidam, com os devidos méritos e pompas, de seus falecidos, assegurando que o rito fúnebre preserve sua memória, lhe dê todo conforto durante o “descanso eterno” e lhe garanta o “Reino dos Céus”. Não à toa, os ricos eram enterrados, até o século XIX, em lugares privilegiados como no interior das igrejas, próximos do altar ou dos santos intercessores, por acreditar que assim estariam seguros e protegidos no dia do juízo final. O momento da morte era algo organizado e preparado antecipadamente, em que os testamentos escritos já indicavam como deveria ser o funeral, o cortejo e a cerimônia de enterro. Aos que ficavam, a vivência do luto era o momento de recolhimento e contemplação.
Aos pobres, a vivência da morte e ausência do luto configura-se, ao longo da história, como um verdadeiro transtorno e sofrimento. Por vezes, a solução encontrada era apelar para a caridade alheia, a fim de garantir que seus entes queridos fossem enterrados condignamente e em solo sagrado. Há relatos históricos de que se abandonavam os mortos na porta da igreja no horizonte que fossem acolhidos e enterrados, mesmo que nos cemitérios intramuros. Viver o luto não fazia parte da vida – e para muitos ainda hoje não faz – algo que parece muito distante a quem não tem onde cair morto.
E assim o sistema segue negando e subtraindo nossos direitos e nossas emoções, a exemplo dos jogadores que não puderem sequer sentir e viver o luto do companheiro de equipe; e tantos casos cotidianos, em que não há tempo nem mesmo para se despedir de um ente querido. O jeito, imposto, é engolir o choro, abafar os sentimentos, colocar a chuteira e seguir para o jogo...

Gisele A. Bovolenta é assistente social e professora na Universidade Federal de São Paulo.
***
Siga o JORNAL EM DIA BRAGANÇA no Instagram: https://instagram.com/jornalemdia_braganca e no facebook: Jornal Em Dia
Receba as notícias no seu WhatsApp pelo https://chat.whatsapp.com/Bo0bb5NSBxg5XOpC5ypb9D
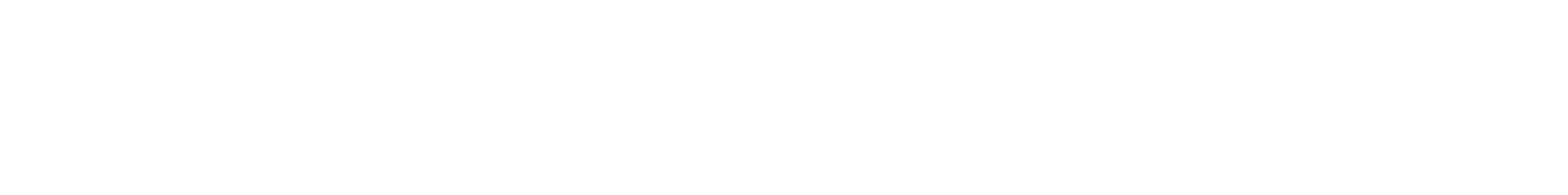






0 Comentários