Foto: Arquivo

Trabalhador brasileiro...
“Trabalhador, trabalhador brasileiro; dentista, frentista, polícia, bombeiro; trabalhador brasileiro; tem gari por aí que é formado engenheiro; trabalhador brasileiro; trabalhador...”
Eis o samba de Seu Jorge para relembrar o Primeiro de Maio, data em menção ao “Dia Internacional do Trabalho”, reconhecido como feriado nacional em 1924 – pelo então presidente da República Arthur Bernardes – em alusão à força que o movimento dos trabalhadores continha naquele momento em prol de melhores condições de trabalho. Força essa que parece enfraquecida numa realidade em que se “samba” para conseguir um trabalho e manter-se nele.
No Brasil de 2022, acumulamos uma taxa de desemprego de 13,7%, segundo a Austin Rating (agência classificadora de risco de crédito), a partir de projeções dos relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que reserva ao país uma das mais altas taxas do mundo. No conjunto dos 102 países avaliados, ficamos com a nona pior posição, perdendo apenas para África do Sul, Sudão, Cisjordânia e Faixa de Gaza, os três primeiros do ranking. Isso representa, conforme o IBGE, mais de 12 milhões de brasileiras e brasileiros.
Afora a condição do trabalho em si, regido por queda na renda, acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários restritos ou inexistentes, vínculos instáveis, precários e limitados, superdimensionando o campo de exploração da “classe que vive do trabalho”.
Realidade distante do que fora prometido pela Reforma Trabalhista de Michel Temer (MDB). A narrativa dominante na época proferia um discurso sedutor – algo típico do sistema capitalista – em que a CLT (Consolidação das Leis Trabalho) de 1943 era considerada “ultrapassada”, o que criava muitos empecilhos para geração e manutenção de postos de trabalho. Na prática, o que queriam dizer na verdade, é que os direitos assegurados na lei, criam muitas responsabilidades aos órgãos empregadores, num contexto onde prevalece um ideário escravagista, que limita o campo de exploração da classe trabalhadora. Debate esse que precisa, necessariamente, ser pautado no pleito deste ano, convocando os candidatos a assumir o compromisso de revogação desta reforma.
Mesmo porque seus desdobramentos estão aí: dado o volume de pessoas em empregos precarizados – como àquelas que sobrevivem ou “sambam” via aplicativos – também quantificadas pelo IBGE, apontando aumento do trabalhador autônomo, sem carteira e com queda na renda.
Não à toa relembramos também ser recente o reconhecimento de direitos que se estenderiam aos empregados domésticos (em 2013, por meio da chamada “PEC das domésticas”, sancionada pela então presidenta Dilma Rousself). A ira do patrão – ou da patroa, a qual em grande medida “cuida ou gerencia o lar” – ganhou coro em falas que questionavam a ida das empregadas à Disney, o que causaria gasturas em quem idealiza um trabalho árduo com pouco ou quase nenhum reconhecimento.
A utopia do acesso ao trabalho e, mais do que isso, ao trabalho digno, é uma busca. Inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, deseja-se conseguir uma atividade laborativa e, por meio dela, ter um salário capaz de manter as necessidades básicas de subsistência do trabalhador e de sua família, bem mais que os míseros pouco mais de mil reais, dito salário mínimo, que de longe não provê o que é preciso.
É ter tempo ao ócio, como um bem inegociável que compõe a dimensão da vida humana, que não deveria pertencer a grupos seletos; é ter “direito à preguiça”, como defendeu o escritor Paul Lafargue em 1880, reconhecendo que o trabalho não deveria ocupar (quase) todo o tempo da vida. Trabalhar deveria ser objeto de prazer e realização; também como pontuou o filósofo chinês Confúcio “escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”.
É sambar, ao som de Seu Jorge, como um ritmo de dança que nos envolve; e não como condição imposta para viver e sobreviver por e pelo trabalho!
.jpg) Gisele A. Bovolenta é assistente social e professora na Universidade Federal de São Paulo.
Gisele A. Bovolenta é assistente social e professora na Universidade Federal de São Paulo.
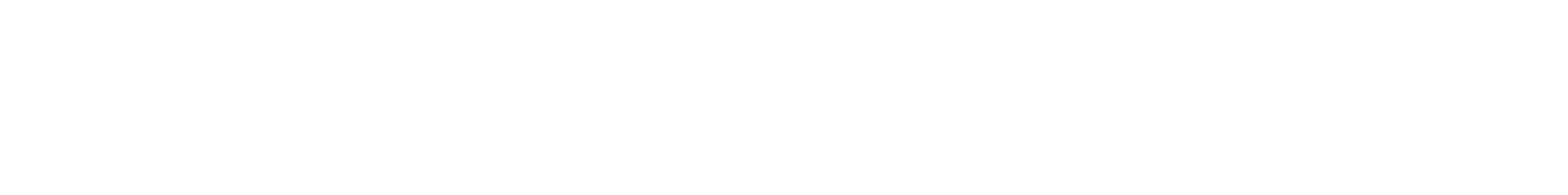






0 Comentários